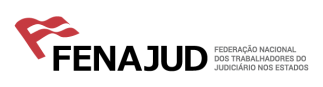Texto de Alexandre Santos – Coordenador-geral da Fenajud
NATAL
JULHO-2022
- INTRODUÇÃO
A trajetória da criação do Estado-nação brasileiro guarda uma experiência colonial europeia que se interpôs à trajetória de vários povos africanos e indígenas. Os escravos trazidos da África pelos portugueses vieram basicamente de duas regiões do continente africano: os bantos provenientes da região de Moçambique, Congo e Angola e os sudaneses provenientes da Nigéria, Guiné e Costa do Ouro. Vieram do Centro-Sul, Nordeste e da costa Centro-Oeste do continente africano. Lá, formavam sociedades, desenvolviam civilizações, tinham suas linguagens, suas culturas e suas histórias. Trazidos para cá, viram-se vítimas de um processo de desumanização que lhes negou tudo que era deles e lhes obrigou a conviver na condição de escravos de um sistema socioeconômico que lhes retirou identidade, cultura, linguagem e dignidade.
Passado esse longo período que durou séculos, o povo negro escravizado se viu vítima de um outro processo histórico e político baseados na segregação racial. Afastados de sua história e de sua cultura se viram em meio ao furacão da formação da sociedade brasileira que saía de um regime escravocrata para um regime de trabalho assalariado que não se destinava a eles. Geograficamente comprimidos nos ambientes de periferia dos centros urbanos que se desenvolviam, foram forçados a buscar a sobrevivência diante da aspereza do racismo que se espraiava por toda a estrutura social gerando nas massas de negros brasileiros as concepções de pessoas subalternizadas, estigmatizadas e vítimas constantes da violência institucional que lhes negava espaços de representatividade nas estruturas sociais.
O presente trabalho tem por objetivo analisar a relação que modelo colonialista tem na moldura desse racismo estrutural que tanta negação e subalternidade destina aos negros no Brasil. Pretendemos também criticar as tentativas de mascarar essa realidade operada pelas elites dominantes ao disseminar o mito da democracia racial e demonstrar como essa colonialidade do poder influencia no impedimento de uma sociedade realmente democrática. Finalmente apontamos para o necessário processo de descolonização que teria por objeto a mudança dessa triste realidade brasileira e devolver a essas comunidades a dignidade de conhecer seu passado ancestral e de ajudar na formação de um Estado-nação que assuma maior compromisso com a democracia.
- COLONIALISMO, CAPITALISMO, RAÇA e RACISMO
“Colonização e civilização?
A maldição mais comum nessa matéria é deixarmo-nos iludir, de boa fé, por uma hipocrisia colectiva, hábil em anunciar mal os problemas para melhor legitimar as soluções que lhes aplicam.
Equivale a dizer que o fundamental, aqui, é ver claro, pensar claro – entenda-se, perigosamente -, responder claro à inocente questão inicial: o que é, no seu princípio a colonização? Concordaremos no que ela não é; nem evangelização, nem empresa filantrópica, nem vontade de recuar as fronteiras da ignorância, da doença, da tirania, nem propagação de Deus, nem extensão do Direito; admitamos uma vez por todas, sem vontade de fugir às consequências, que o gesto decisivo, aqui, é o do aventureiro e do pirata, do comerciante e do armador, do pesquisador de ouro e do mercador, do apetite e da força, tendo por detrás a sombra projectada, maléfica, de uma forma de civilização que a dado momento da sua história se vê obrigada, internamente, a alargar à escala mundial a concorrência das suas economias antagônicas” (CÉSAIRE, 1978, p.14-15).
Como se percebe da leitura do trecho da obra “Discurso Sobre o Colonialismo” de Aimé Césaire, a narrativa que assumiu hegemonia sobre o que foi (ou o que é) a colonização empreendida pela Europa nos séculos passados precisa ser criticada a fim de que a verdade seja esclarecida. E, para tanto, necessário se faz que o colonialismo, para ser bem compreendido, precisa ser observado sem que o desvencilhemos do capitalismo.
De fato, o colonialismo, como nos indica Aníbal Quijano (Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e América Latina), estruturou uma relação capital-salário onde “incluíram-se a escravidão, a servidão, a pequena produção mercantil, a reciprocidade e o salário” (QUIJANO, 2005). Assim, observa-se que o colonialismo assumiu papel importante na configuração do capitalismo imposto por meio de mercado internacional de produtos pilhados e do comércio de escravos que serviriam de mão de obra em diversas colônias. Pensar o colonialismo sem observar essa relação com o sistema sócio econômico capitalista é fechar os olhos para o interesse exploratório trazido no bojo da colonização.
Nesse contexto, é fundamental compreendermos que o conceito de raça teve papel fundamental nesse empreendimento. Como afirma Quijano, “A idéia de raça, em seu sentido moderno, não tem história conhecida antes da América”. Portanto, para que o colonialismo pudesse seguir seu curso na dominação dos povos e na estruturação do capitalismo que se definia, construiu-se socialmente as ideias em torno das raças com o intuito de transformar a raça branca naquela que serviria como modelo de “civilização” e “superioridade”. Os brancos seriam aqueles que primeiro “evoluíram” a ponto de formar civilizações enquanto que negros, amarelos, indígenas eram, enfim, a raça “inferior” que precisava ser “evangelizada”; aprender a língua “superior” do colonizador; adequar-se a sua religião, sua forma de se vestir e de viver. Era preciso impor um padrão a ser alcançado e, segundo Quijano, tudo isso acabou desembocando em uma relação de poder entre os colonizadores e os colonizados (colonialidade do poder). Quijano ao analisar a colonização nas américas, nos esclarece, e aqui nós concordamos com ele, que o colonialismo impôs uma sistemática divisão racial do trabalho:
“Na área hispânica, a Coroa de Castela logo decidiu pelo fim da escravidão dos índios, para impedir seu total extermínio. Assim, foram confinados na estrutura da servidão. Aos que viviam em suas comunidades, foi-lhes permitida a prática de sua antiga reciprocidade – isto é, o intercâmbio da força de trabalho e do trabalho sem mercado – como uma forma de reproduzir sua força de trabalho como servos. Em alguns casos, a nobreza indígena, uma reduzida minoria, foi eximida da servidão e recebeu um tratamento especial, devido a seus papéis como intermediária com a raça dominante, e lhe foi também permitido participar de alguns dos ofícios dos quais eram empregados os espanhóis que não pertenciam à nobreza. Por outro lado, os negros foram reduzidos à escravidão. Os espanhóis e os portugueses, como raça dominante, podiam receber salários, ser comerciantes independentes, artesãos independentes ou agricultores independentes, em suma, produtores independentes de mercadorias. Não obstante, apenas os nobres podiam ocupar os médios e altos postos da administração colonial, civil e militar”. (QUIJANO, 2005, pag.108)
Como se vê, aos negros coube exclusivamente o trabalho escravo. Portanto, os escravos trazidos de África foram primeiramente desumanizados e classificados como inferiores. Sua cultura, sua língua, seus conhecimentos acumulados precisavam ser postos de lado para que se sustentasse a ideia de raça inferior. E, não podemos ignorar, que esses povos africanos eram obrigados a deixar em suas terras toda uma história, aliás, histórias, ancestrais, formas de observar e apreender o mundo. Foram-lhes negado a vida da forma como concebiam e imposta uma vida que não era deles. O médico psiquiatra e filósofo martinicano Frantz Fanon estudou as consequências psicológicas da colonização nos colonizados, bem como, das relações sociais e de poder que se estabeleciam entre colonizados e colonizadores, mais notadamente entre negros e brancos. A sua obra “Pele Negra, Máscaras Brancas” é significativa e nos informa de um passado do povo negro africano cheio de conhecimento e desenvolvido a seu modo:
“Revirei vertiginosamente a antiguidade negra. O que descobri me deixou ofegante, no seu livro ‘L’abolition de l’esclavage’, Schoelcher nos trouxe argumentos peremptórios. Em seguida Frobenius, Westermann, Delafosse, todos brancos, falaram em coro de Ségou, Djenné, cidades de mais de cem mil habitantes. Falaram dos doutores negros (doutores em teologia que iam a Meca discutir o Alcorão). Tudo isto exumado, dispostos, vísceras ao vento, permitiu-me reencontrar uma categoria histórica válida. O branco estava enganado, eu não era primitivo, nem tampouco um meio-homem, eu pertencia a uma raça que há dois mil anos já trabalhava o ouro e a prata”. (FANON, 2008, pag.119).
Na mesma obra, Fanon cita trecho da introdução que Aimé Césaire elaborou na obra “Esclavage et Colonisation” de Victor Schoelcher que convém reproduzirmos:
“Quem eram então esses homens que, através dos séculos, uma selvageria insuportável arrancava de seu país, de seus deuses, de suas famílias? (…) Homens afáveis, educados, corteses, certamente superiores a seus carrascos, um bando de aventureiros que quebrava, violava, insultava a África para melhor espoliá-la (…)
Eles sabiam construir casas, administrar impérios, organizar cidades, cultivar os campos, fundir os minerais, tecer o algodão, forjar o ferro (…) Sua religião era bela, feita de misteriosos contatos com o fundador da cidade. Seus costumes agradáveis, baseados na solidariedade, na benevolência, no respeito aos idosos. Nenhuma coação, mas a assistência mútua, a alegria de viver, a disciplina livremente consentida (…)Do indivíduo sem angústia ao chefe quase fabuloso, uma cadeia contínua de compreensão e confiança. Tinham ciência? Claro, mas eles as tinham para protege-los do medo, grandes mitos onde a mais refinada das observações e a mais ousada das imaginações se equilibravam e se fundiam. Tinham arte? Eles tinham sua magnífica estatuária, onde a emoção humana nunca explode tão ferozmente a ponto de deixar de organizar, segundo as obsessivas leis do ritmo, uma matéria destinada a captar, para redistribuí-las, nas forças mais secretas do universo (…)
Monumentos em pleno coração da África? Escolas? Hospitais? Nenhum burguês do século XX, nenhum Durand, Smith ou Brown suspeitou de sua existência na África anterior à chegada dos europeus (…)
Mas Schoelcher assinala essa existência citando Caillé, Mollien, os irmãos Lander. E se ele não assinala em parte alguma que, quando os portugueses desembarcaram às margens do Congo, em 1498, descobriram um Estado rico e florescente, que na corte de Mombaça os poderosos vestiam-se com seda e brocado, pelo menos ele sabe que a África elevou-se sozinha a uma concepção jurídica de Estado, e ele suspeita que, em pleno século do imperialismo, a civilização europeia, afinal de contas, é apenas uma civilização entre outras, e não a mais suave.” (FANON, 2008, pag.119).
Percebe-se da análise dos fragmentos citados que o negro não era e nunca foi inferior ao branco e que essas categorias de raça foram criadas socialmente para favorecer o empreendimento colonialista. Era preciso reduzir os negros à subalternidade e, para isto, tudo que eles haviam concebido e desenvolvido no mundo precisava ser inferiorizado. Era necessário vendê-los como escravos. O colonialismo, como bem observado por Quijano, necessitava de mercadorias, umas exploradas e expropriadas no território das colônias e outras, humanas, arrancadas de seus familiares, afetos e vivências no seu próprio território para serem desumanizadas e vendidas como semoventes para realização da tarefa econômica que, no Brasil, eram nas lavouras cultivadas no sistema de plantation e na extração de minerais.
No estudo de Fanon que apreendemos da obra Pele Negra, Máscaras Brancas, verificamos que o processo de colonialismo deixa nas comunidades negras que foram vítimas das suas sevícias, bem como nos mestiços um forte impacto pscicológico. Fanon nos fala do papel da linguagem no desenvolvimento de relações de dominação colonial onde se analisa o status que a língua e a cultura do colonizador assumiram no cotidiano do colonizado bem como nas relações dos colonizados com os colonizadores. Fanon também aponta que na medida em que os valores culturais da metrópole são assimilados pelo colonizado negro, ele valoriza superestimadamente a cultura europeia, fortalecendo-se, com isso, a desvalorização das culturas dos negros, ou simplesmente, a total destituição cultural do negro o que corroborou com a ideia, difundida pelo colonizador, de que havia ausência de civilização entre os povos colonizados.
Aníbal Quijano, analisando a influência eurocêntrica na formação do Estado nos países latino-americanos aponta que em nenhum desses Estados houve uma descolonização do poder. Cita que somente nas experiências relatadas pela história com Tupac Amaru e revolução haitiana é que se chegou mais perto nessa descolonização, mas, com a derrota dessas revoluções, todos os Estados latino-americanos ficaram a margem de uma descolonização do poder. Para Quijano, isso nos legou a formação de Estados sem caráter nacional e sem democracia:
“Esses novos Estados não poderiam ser considerados de modo algum como nacionais, salvo que se admita que essa exígua minoria de colonizadores no controle fosse genuinamente representante do conjunto da população colonizada. As respectivas sociedades, baseadas na dominação colonial de índios, negros e mestiços, não poderiam tampouco ser consideradas nacionais, e muito menos democráticas. Isto coloca uma situação aparentemente paradoxal: Estados independentes e sociedades coloniais. O paradoxo é somente parcial ou superficial, se observarmos com mais cuidado os interesses sociais coloniais e de seus Estados independentes”. (QUIJANO, 2005, pag.122)
“Isto quer dizer que a colonialidade do poder baseada na imposição da ideia de raça como instrumento de dominação foi sempre um fator limitante destes processos de construção do Estado-nação baseados no modelo eurocêntrico (…) O grau atual de limitação depende, como foi demonstrado, da proporção das raças colonizadas dentro da população total e da densidade de suas instituições sociais e culturais”. (QUIJANO, 2005, pag.124)
“(…) a colonialidade do poder estabelecida sobre a ideia de raça deve ser admitida como um fator básico na questão nacional e do Estado-nação. O problema é, contudo, que na América Latina a perspectiva eurocêntrica foi adotada pelos grupos dominantes como própria e levou-os a impor o modelo europeu de formação do Estado-nação para estruturas do poder organizadas em torno de relações coloniais” (QUIJANO, 2005, pag. 125)
Concordando com Quijano, observamos a formação desses Estados-nação na América Latina, incluindo o Brasil, como uma reprodução social do interesse da classe dominante branca que identificava-se com o modelo eurocêntrico europeu. No caso do Brasil, a independência do colonizado se deu pelos próprios portugueses. Impossível, assim, que nesse processo de formação do Estado brasileiro se levasse em conta os interesse da maioria da população formada por negros africanos, indígenas (grande parte vítima de genocídio a exemplo de diversas outras sociedades latino-americanas) e mestiços. Verifica-se que esse Estado brasileiro, portanto, se ergueu sob os pilares estruturais dos interesses do colonizador em detrimento dos interesses dos colonizados. Com isso, indígenas e negros no Brasil continuaram a margem dos interesses de parca minoria branca que assumia os postos da administração da coisa pública e impunha um modelo político excludente e ainda colonizado. Nesse contexto, o racismo surge como elemento estruturante na sociedade que se desenvolvia no Brasil.
O racismo é, portanto, o resultado de todo esse processo que envolve colonialismo, escravidão, capitalismo e patriarcado e que formaram os pilares da sociedade brasileira. O seu caráter sistêmico, como nos informa Silvio Almeida em sua irretocável obra Racismo Estrutural é o que o diferencia da discriminação racial e do preconceito racial. O racismo “é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial a que pertençam” (ALMEIDA, 2019). Por ser sistêmico, denuncia um interesse claro das classes dominantes, composta por brancos, de gerar a posição de invisibilidade e subalternidade que vemos sempre apontadas para os negros brasileiros. O racismo é responsável por ter conduzido a imensa massa de escravos libertos formalmente pela abolição levada a cabo pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888 aos subúrbios das cidades em um país que presenciou a urbanização e a transição do trabalho escravo para o assalariado subalterno. Por meio dele, tudo que se relaciona ao universo negro é visto como inferior desde os elementos de suas culturas estética, intelectual, artística.
- O MITO DA DEMOCRACIA RACIAL E O RACISMO ESTRUTURAL DESENVOLVIDOS NA SOCIEDADE BRASILEIRA
Aníbal Quijano, ao analisar o problema do Estado-nação nas sociedades latino-americanas, distinguiu quatro trajetórias históricas e linhas ideológicas que acabam por servir de elemento impeditivo do desenvolvimento e culminação da nacionalização da sociedade e do Estado bem como de sua democratização, impondo uma colonização do poder, a saber:
“1. Um limitado mas real processo de descolonização/democratização através de revoluções radicais como no México e na Bolívia, depois das derrotas do Haiti e de Tupac Amaru. No México, o processo de descolonização do poder começou a ver-se paulatinamente limitado desde os anos 60 até entrar finalmente num período de crise no final dos anos 70. Na Bolivia a revolução foi derrotada em 1965.
- Um limitado mas real processo de hemogeneização colonial (racial), como no Cone Sul (Chile, Uruguai, Argentina), por meio de um genocídio massivo da população aborígene. Uma variante dessa linha é a Colômbia, onde a população original foi quase exterminada durante a colônia e substituída pelos negros.
- Uma sempre frustrada tentativa de homogeneização cultural através do genocídio cultural dos índios, negros e mestiços, como no México, Peru, equador, Guatemala-América Central e Bolívia.
- A imposição de uma ideologia de “democracia racial” que mascara a verdadeira discriminação e a dominação colonial dos negros, como no Brasil, na Colômbia e na Venezuela. Dificilmente alguém pode reconhecer com seriedade uma verdadeira cidadania da população de origem africana nesses países, ainda que as tensões e conflitos raciais não sejam tão violentos e explícitos como na África do sul e nos Estados unidos” (QUIJANO, 2005, Pag. 124)
Interessa-nos, agora, a imorredoura lição de Florestan Fernandes em “Significado do Protesto Negro”:
“(…) possuir uma ‘consciência crítica’ de uma dada realidade e ignorar que ela exige desdobramentos práticos para ser destruída é mais grave que omitir-se: pressupõe um compromisso tácito com os que querem que a realidade não se altere, que ela se reproduza indefinidamente. Por isso, impõe-se ao negro avançar por seus próprios meios, liberar-se de símbolos, comportamentos e datas que o prendem ao ‘mundo que o português criou’. Na verdade, esse mundo não foi ‘criado’ pelo português, porque não foi pura e simplesmente transplantado de Portugal para o Brasil. Ele foi forjado pela escravidão e se mantém na medida em que a escravidão continua a bitolar a cabeça do colonizado. Respeito e me emociono diante de uma senhora negra que diz à antiga patroa, na presença da filha, ‘desse estofo não sai uma senhora!?’ Trata-se de uma sinceridade rústica, que nos põe de forma mais simplória diante das armadilhas do preconceito e da discriminação raciais. Chego a compreender e a aceitar o ‘negro trânsfuga’, que nega aos irmãos de raça uma solidariedade que ele não aprendeu a captar e um orgulho racial que está longe de sua mente. No entanto, revolto-me diante do ‘novo negro’, que ‘quer subir na vida’ e isolar-se ‘daquela gentinha negra’ e repudia os movimentos negros, ‘porque eles dão azar’. Os três casos traduzem o ardil da democracia racial fictícia, cuja função é aprisionar o negro dentro de paradoxos que conduzem à negação de si próprio, constrangê-lo a ver-se como ele pensa que é visto pelos brancos. A pessoa interage com seu mundo e, para resguardar sua identidade, precisa começar por negá-lo e transformá-lo” (FERNANDES, Florestan, 1989, Pág. 25)
Como se vê, no Brasil, as elites que dominam a cena política e forjam a sociedade ao seu bel prazer operam sistematicamente na perpetuação do racismo tentando velá-lo sob a capa de uma fictícia democracia racial. Argumentam que a sociedade brasileira se formou a partir de uma miscigenação principalmente entre brancos, negros e indígenas; que as relações entre colonizadores, principalmente portugueses, e os colonizados se deu a partir de uma tolerância racial onde o negro e o indígena frequentemente participavam também da vida na casa grande onde chegavam, inclusive a participar da vida familiar e educacional dos filhos de seu algozes. Esse mito de uma democracia racial que nunca existiu tem como condão, como bem assinalado por Quijano, mascarar a realidade dura de exclusão, discriminação e preconceito que coloniza até hoje as mentes daqueles que continuam sendo suas vítimas.
Gilberto Freyre em Casa Grande e Senzala já descortinava a real intenção da miscigenação levada a cabo pelos colonizadores portugueses. Eles necessitavam da miscigenação como estratégia de dominação. Portanto, nada de democrático havia nos reiterados estupros ocorridos na casa grande por homens brancos contra mulheres negras e indígenas. A ideologia da democracia racial tenta apagar a violência que há na forçada miscigenação que deu origem a uma sociedade brasileira moldada pelo colonizador. E esse processo de dominação colonial que dizimou culturas, abafou civilizações e impôs um modelo europeu de Estado que continua até hoje atuando através das instituições, da economia, do sistema educacional, dos tribunais, denuncia que o colonialismo ainda vive e que é urgente detê-lo.
Almeida, ao lançar seu olhar cuidadoso sobre o racismo estrutural, nos afirma que o racismo trata-se de “um processo em que as condições de subalternidade e de privilégio que se distribuem entre grupos raciais se reproduzem nos âmbitos da política, da economia e das relações cotidianas” (ALMEIDA, 2019, pag. 34). Observemos a total incompatibilidade entre um processo gerador de privilégio de uns poucos e, ao mesmo tempo, subalternidade de outros em razão da raça e a existência de uma democracia racial. Pensando com Quijano, depreende-se como esse processo racista impede o desenvolvimento da verdadeira democracia. Democracia racial pressupõe ausência de privilégios para brancos em detrimento da invisibilidade e subalternidade de negros, indígenas.
Entender o racismo estrutural pressupõe a compreensão igualmente do racismo institucional. Por instituições entendemos o conjunto de normas, regras, leis que estabelece em uma sociedade o Estado. Almeida nos lembra que instituição pressupõe rotina, coordenação de comportamento, orientação com vistas a dar estabilidade a sistemas sociais e que isto, por sua vez, exige uma capacidade de absorver conflitos existentes no seio da sociedade. “Assim, as instituições moldam o comportamento humano, tanto do ponto de vista das decisões e do cálculo racional, como dos sentimentos e preferências” (ALMEIDA, 2019). Através do racismo institucional, os grupos raciais dominantes exercem sua hegemonia através da ocupação dos espaços de poder que são negados ou dificultados aos grupos raciais subalternizados por eles. E, para garantir o domínio sobre o poder político e econômico dos quais não abrem mão, fazem concessões diante das resistências típicas da institucionalidade. É nesse campo, também, que atuam muitos movimentos sociais que reivindicam o lugar do negro e que conquistaram muitos avanços no campo da descolonização a exemplo das ações afirmativas que garantiram cotas em universidades públicas e em alguns cargos públicos, a exemplo dos da magistratura, para negros. Porém, em se tratando de descolonização, um outro racismo precisa ser mirado dado a sua extensão nas relações sociais: o racismo estrutural.
O racismo estrutural, para além das questões institucionais, envolve em seu manto as estruturas sociais mais sólidas imiscuindo dentro delas uma espécie de segregação do povo negro que se esconde por detrás de ideologias como a da democracia racial da qual falamos há pouco. Revelando-se nos aspectos mais basilares da sociedade, o racismo estrutural vai se modelando na ideologia, na economia, na política, no direito. Tomando emprestado a imagem da jaula de aço na alegoria de Weber com a qual tentava demonstrar o envolvimento da burocracia na captura da individualidade dos membros da sociedade, apontamos o racismo estrutural como uma grande mordaça e ao mesmo tempo cárcere de ferro que enclausura o negro comandando o processo que produz sua inexistência, sua segregação. Em razão dele, a inexistência dos negros nos faz só ver brancos em cargos públicos de maior relevância e poder decisório e só vermos negros em cargos subalternos. É ele também que nos faz ver a famosa “mão invisível do mercado” de Adam Smith reservar os cargos de gerência, comando e assessoramento no setor privado aos brancos e aos negros os cargos subalternos relacionados a atividades meios. É igualmente ele, o racismo estrutural, que dificulta a entrada de negros em universidades e, quando lhes concede institucionalmente essa oportunidade, lhes nega os conhecimentos produzidos por seus povos ancestrais operando contra eles um epistemicídio sem precedentes. Enfim, é o racismo estrutural que revela uma sociedade racista determinando a continuidade dos efeitos da colonização escravagista até os dias atuais e operando um violento esquema de consequências psicológicas que gera sentimento de inferioridade naqueles que são suas vítimas históricas.
A partir do racismo estrutural, encontramos instituições que revelam nos atos de seus representantes a reprodução do racismo, como as polícias ostensivas que, no Brasil, são responsáveis por um verdadeiro genocídio da população negra e o Poder Judiciário que revela em sua atividade judicante, principalmente no campo penal, uma intrínseca relação com o a legitimação do racismo ao proferir suas incontáveis sentenças responsáveis por encaminhar massas de negros aos cárceres.
- CONCLUSÃO:
Observamos ao longo deste trabalho que o colonialismo resultou em um processo violento. Que ao chegar na África e nas Américas, os europeus se depararam com sociedades que tinham suas histórias, mas, resolveram empreender um projeto de dominação e exploração que gerou, ao longo do tempo, um violento processo de imposição de um modelo de Estado-nação eurocêntrico. Estes Estados latino-americanos constituíram-se em modelos racistas no momento em que a raça foi tomada como categoria fundamental de elaboração dessas sociedades de supremacia branca.
Analisando as consequências da colonização para a população negra brasileira, vimos que as consequências psicológicas que foram identificadas por Fanon também se operou no Brasil assim como em todos os países que foram forjados nesse modelo colonialista europeu. Vimos que o colonialismo operado no Brasil mantém estreita relação com o racismo estrutural e institucional no momento em que desumanizou o negro a partir da sua escravização e o relegou a categoria subalternizada após a abolição, mantendo sobre as mentes dessas pessoas uma relação de dominância que perdura até os dias atuais. Observamos, também, como a classe dominante branca tenta mascarar todo esse processo a partir de tentativa de imposição de uma narrativa ideológica de democracia racial.
Concluímos com a afirmação da necessidade de se construir caminhos de descolonização tanto do pensamento, como do poder e dos seres que foram e são vítimas ainda de todo o legado nefasto da experiência colonial.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
QUIJANO, Aníbal. 2008. “Colonialidade do Poder, eurocentrismo e América Latina”. Em: Edgardo Lander (org.) A Colonialidade do Saber: Eurocentrismo e Ciências Sociais Perspectivas Latino-Americanas. Buenos Aires: Biblioteca virtual CLACSO.
FANON, Frantz. 2008. Pele Negra, Máscaras Brancas. Salvador: Editora UFBA.
FANON, Frantz. 2010. Os Condenados da Terra. Minas Gerais: Editora UFJF.
CÉSAIRE, Aimé. 1978. Discurso Sobre o Colonialismo. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora.
ALMEIDA, Silvio. 2019. Racismo Estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen
Texto de Alexandre Santos – Coordenador-geral da Fenajud
 ÁREA RESTRITA
ÁREA RESTRITA ASCOM
ASCOM LINKS ÚTEIS
LINKS ÚTEIS E-MAIL
E-MAIL