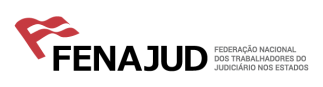Por Alexandre Santos – Coordenador-geral da Fenajud
A violência contra as mulheres é uma das consequências mais nefastas da exploração a que elas estão sujeitas em uma sociedade tão desigual como a brasileira. A erradicação dessa exploração e, consequentemente, da violência decorrente dela é tarefa de todos. Entre 2020 e 2021 houve uma explosão dos casos de violência contra a mulher e feminicídio no Brasil. Os números revelam o tamanho da crise humanitária e apontam para a existência de uma verdadeira epidemia de violência contra as mulheres.
Em 2020 os casos de feminicídio aumentaram 22% e vimos ocorrer no país um feminicídio a cada 9 horas. No ano de 2021, 632 agressões físicas por dia foram registradas no país. Mais de 1300 casos de feminicídio foram registrados somente no ano de 2021, fazendo com que o Brasil ocupasse o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio elaborado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. No primeiro semestre de 2021 os feminicídios atingiram o maior patamar desde 2017 (4 por dia). Ainda no ano de 2021, mais de três casos de perseguição de mulheres foram registrados a cada hora (27.722 registros de perseguições físicas ou virtuais). E ainda é muito importante frisar que apenas 34% das mulheres ameaçadas procuram a polícia, ficando 66% dos casos desconhecidos dos órgãos policiais.
No Brasil, 64% da população conhece ao menos uma mulher ou menina que já foi vítima de estupro. 26 mulheres sofrem qualquer tipo de agressão física por hora. 3 mulheres brasileiras são vítimas de feminicídio a cada dia. Uma menina ou mulher é estuprada a cada 10 minutos e uma travesti ou mulher trans é assassinada no país a cada 2 dias. Não bastasse esses números impressionantes traçando a realidade social da violência contra as mulheres, para 33% dos brasileiros a vítima é culpada pelo feminicídio. Nessa lógica cruel, as mulheres são assassinadas duas vezes.
Recentemente, uma pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e Locomotiva, denominada “Percepções da População Brasileira Sobre o Feminicídio”, apontou que 90% dos brasileiros consideram que o lar é o local de maior risco de assassinato para as mulheres (o machismo não dá descanso nem na rua nem em casa). Apontou também que 50% dos feminicídios são praticados por homens insatisfeitos com o fim do relacionamento. Trazendo para a realidade do Nordeste, quase 30% das mulheres desta região do país já foram vítimas de violência doméstica ao longo da vida.
Quando a realidade é trazida com o corte racial os números mostram-se bem mais acentuados. 93% das mulheres negras afirmam ter sofrido discriminação nas relações intrapartidárias. 2 mulheres negras são vítimas de feminicídio a cada dia. 2 são estupradas a cada hora. 10 sofrem violência física a cada dia. 12 são vítimas de violência psicológica ou moral a cada semana e 4 morrem em idade fértil a cada dia.
Podemos pensar: “Ah, mas a violência contra as mulheres só ocorre nos estratos sociais mais vulneráveis”. Ledo engano! Pesquisa que entrevistou 300 mulheres (51% servidoras e 49% magistradas) servidoras públicas do sistema de justiça brasileiro demonstrou que 40% delas já sofreram algum tipo de violência doméstica e familiar.
Os números impressionam, não é? Em que pese eles terem sido agravados pela epidemia do coronavírus, seguindo a lógica de que a violência contra as mulheres sempre cresceu em momentos de crises econômicas, sociais e sanitárias, esses números apontam a realidade das mulheres nesse país de imensas desigualdades. Eles denunciam a existência de uma epidemia avassaladora de violência contra as mulheres brasileiras. E, como bem-dito pela psicóloga, professora e pesquisadora de questões de gênero Valeska Zanello, toda epidemia tem um vetor que deve ser combatido a fim de cessar a epidemia. E, no tocante à violência contra as mulheres, esse vetor é bem evidente: somos nós, os homens! Daí resulta que os homens têm papel fundamental na erradicação da violência contra as mulheres. Para tanto, necessários dois processos bem distintos: o esclarecimento consciente e a atitude renovadora.
É preciso que se estude todo o processo histórico e social da formação da sociedade moderna brasileira para que entendamos as raízes do machismo estrutural que se reproduz em todas as estruturas e instituições sociais e nas relações interpessoais. Um violento processo de colonização foi operado no Brasil pelos europeus. Esse processo de colonização foi bem estudado pelo professor, antropólogo e sociólogo peruano Anibal Quijano. Ele desenvolveu o conceito de “colonialidade do poder” e exerceu grande influência nos campos de estudos decoloniais e da teoria crítica. Para Quijano, a modernidade está intrinsecamente ligada à colonialidade. A colonialidade foi um projeto político de dominação e o fim do colonialismo na América Latina não implicou o fim da colonialidade. Em seus estudos acerca desse violento processo que se operou nos países da américa latina, Quijano identificou que os europeus, para por em prática seu processo de dominação e sujeição desenvolveram uma Matriz Colonial de Poder (ou um Padrão Colonial de Poder) de quatro cabeças e duas pernas. As quatro cabeças dessa MCP (Matriz Colonial de Poder) seriam: 1. O controle da economia 2. O controle da autoridade 3. O controle do gênero e da sexualidade e 4. O controle do conhecimento e da subjetividade. As duas pernas desse Padrão Colonial de Poder seriam os seus fundamentos racial e patriarcal.
Tudo isso significa que o controle da sexualidade feminina e os traços de masculinidade doentia eram atividades fundamentais dentro desse modelo de dominação que, ao mesmo tempo, desenvolveu uma série de técnicas sociais de controle das subjetividades. Esse controle das subjetividades culminou em um violento processo de moldura de estruturas psíquicas resultando na construção de relações humanas onde os homens eram privilegiados e superiores e as mulheres subalternas e inferiores.
Em artigo intitulado “Masculinidades: A Construção Social da Masculinidade e o Exercício da Violência”, o psicólogo e sociólogo, Mestre em Psicologia Social e membro do programa “E Agora José?” do grupo sócio educativo de homens autuados na Lei Maria da Penha, Flávio Urra, nos informa que a violência de homens contra mulheres é cultural na medida em que em todos os processos de socialização, desde criança, se constrói a masculinidade fortemente influenciada pela competição e a violência. Lembra ele que desde a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher (ou Convenção de Belém do Pará) aprovada em 1994 pela Organização dos Estados Americanos (OEA) foi reconhecida a violência contra a mulher como violação dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e que, portanto, a violência de homens contra mulheres é um problema de saúde pública.
Para Urra, “um modelo violento de masculinidade, decorrente da construção social e histórica das relações estabelecidas entre homens e mulheres (relações de gênero), demonstra ser um dos fatores mais importantes na determinação da violência contra a mulher”. É, portanto, cultural a construção do machismo e da violência contra as mulheres. Nossa sociedade de origem patriarcal como projeto de dominação e de poder desenvolveu um modelo doentio e tóxico que tem por base a violência e a sujeição feminina. O homem reproduz esse “modelo” nas suas relações interpessoais muitas vezes sem nem se dar conta, visto que se trata de violento processo de socialização reprodutor de comportamentos de dominância. Necessário se faz então decolonizar o pensamento e as ações. Urge que os homens rompam esse processo de alienação através de uma profunda reflexão e conscientização. Rompendo as teias do machismo, integrar-se na luta feminista é de fundamental importância.
Valendo-me da metáfora da “casa dos homens” (lugar simbolizado por grupos masculinos de whatsapp onde a reprodução do machismo corroborado pelo silêncio criminoso dos que ficam indiferentes e não combatem o machismo permitindo que ele se perpetue como prática social) de Valeska Zanello, devemos assumir o papel de combatentes desses “modelos” de reprodução da exploração feminina que culminam com a violência epidêmica. É nosso papel, é nosso dever.
Por fim, reporto-me ao título desse artigo: “Já fui mulher, eu sei” para trazer o simbolismo desse trecho de famosa canção do cantor e compositor Chico César e lembrar que toda e qualquer pessoa, mesmo que seja homem ou qualquer outra construção identitária a qual se identifique, que tenha passado por qualquer processo de exploração e viva dominado pela vontade de terceiros já foi mulher e deve se identificar com sua dor devendo, também, lutar junto com elas pela erradicação de toda forma de opressão.
Alexandre Lima Santos
Coordenador Geral da Fenajud
 ÁREA RESTRITA
ÁREA RESTRITA ASCOM
ASCOM LINKS ÚTEIS
LINKS ÚTEIS E-MAIL
E-MAIL